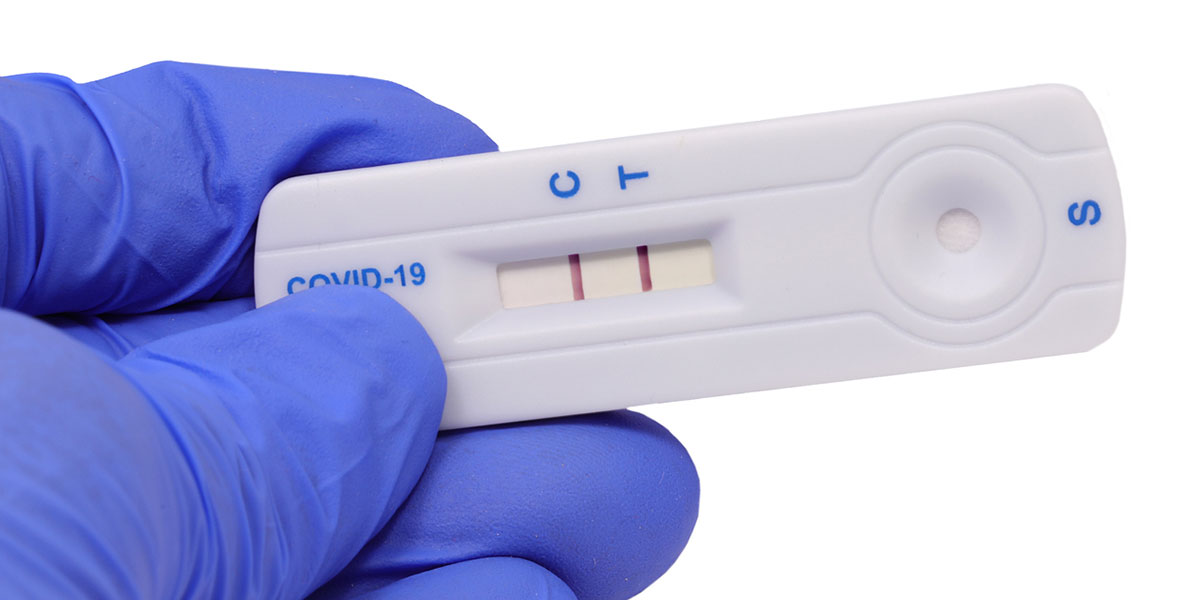
Os boletins Cientistas Sociais e o Coronavírus são uma série de textos publicados ao longo de semanas. Trata-se de uma ação conjunta que reúne a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), a Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) e a Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul (ACSRM).
Nos canais oficiais dessas associações circulam textos curtos, que apresentam trabalhos que refletiram sobre epidemias. Esse é um esforço para continuar dando visibilidade ao que produzimos e também de afirmar a relevância dessas ciências para o enfrentamento da crise que estamos atravessando.
A publicação deste boletim também conta com o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC/SC), da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia (ANPEGE), da Associação Nacional de Pós-Graduação em História (ANPUH), da Associação Nacional de Pós graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (Anpoll) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur).

Confira todas as edições
Semana 17 – 13/7 a 17/7/2020
Boletim n. 86 | Publicado em 17/07/2020
Boletim n. 85 | Publicado em 16/07/2020
Boletim n. 84 | Publicado em 15/07/2020
Boletim n. 83 | Publicado em 14/07/2020
Boletim n. 82 | Publicado em 13/07/2020
Semana 16 – 6/7 a 10/7/2020
Boletim n. 81 | Publicado em 10/07/2020
Boletim n. 80 | Publicado em 9/07/2020
Boletim n. 79 | Publicado em 8/07/2020
Boletim n. 78 | Publicado em 7/07/2020
Boletim n. 77 | Publicado em 6/07/2020
Semana 15 – 29/06 a 03/07/2020
Boletim n. 76 | Publicado em 3/07/2020
Boletim n. 75 | Publicado em 2/07/2020
Boletim n. 74 | Publicado em 1/07/2020
Boletim n. 73 | Publicado em 30/06/2020
Boletim n. 72 | Publicado em 29/06/2020
Semana 14 – 22/06 a 26/06/2020
Boletim n. 71 | Publicado em 26/06/2020
Boletim n. 70 | Publicado em 25/06/2020
Boletim n. 69 | Publicado em 24/06/2020
Boletim n. 68 | Publicado em 23/06/2020
Boletim n. 67 | Publicado em 22/06/2020
Semana 13 – 15/06 a 19/06/2020
Boletim n. 66 | Publicado em 19/06/2020
Boletim n. 65 | Publicado em 18/06/2020
Boletim n. 64 | Publicado em 17/06/2020
Boletim n. 63| Publicado em 16/06/2020
Boletim n. 62 | Publicado em 15/06/2020
Semana 12 – 8/06 a 12/06/2020
Boletim n. 61 | Publicado em 12/06/2020
Boletim n. 60 | Publicado em 11/06/2020
Boletim n. 59 | Publicado em 10/06/2020
Boletim n. 58| Publicado em 9/06/2020
Boletim n. 57 | Publicado em 8/06/2020
Semana 11 – 1/06 a 5/06/2020
Boletim n. 56 | Publicado em 5/06/2020
Boletim n. 55 | Publicado em 4/06/2020
Boletim n. 54 | Publicado em 3/06/2020
Boletim n. 53| Publicado em 2/06/2020
Boletim n. 52 | Publicado em 1/06/2020
Semana 10 – 25/05 a 29/05/2020
Boletim n. 51 | Publicado em 29/05/2020
Boletim n. 50 | Publicado em 28/05/2020
Boletim n. 49 | Publicado em 27/05/2020
Boletim n. 48| Publicado em 26/05/2020
Boletim n. 47 | Publicado em 25/05/2020
Semana 9 – 18/05 a 22/05/2020
Boletim n. 46 | Publicado em 22/05/2020
Boletim n. 45 | Publicado em 21/05/2020
Boletim n. 44 | Publicado em 20/05/2020
Boletim n. 43| Publicado em 19/05/2020
Boletim n. 42 | Publicado em 18/05/2020
Semana 8 – 11/05 a 15/05/2020
Boletim n. 41 | Publicado em 15/05/2020
Boletim n. 40 | Publicado em 14/05/2020
Boletim n. 39 | Publicado em 13/05/2020
Boletim n. 38| Publicado em 12/05/2020
Boletim n. 37 | Publicado em 11/05/2020
Semana 7 – 4/05 a 8/05/2020
Boletim n. 36 | Publicado em 8/05/2020
Boletim n. 35 | Publicado em 7/05/2020
Boletim n. 34| Publicado em 6/05/2020
Boletim n. 33| Publicado em 5/05/2020
Boletim n. 32 | Publicado em 4/05/2020
Semana 6 – 27/04 a 1/05/2020
Boletim n. 31 | Publicado em 30/04/2020
Boletim n. 30| Publicado em 29/04/2020
Boletim n. 29| Publicado em 28/04/2020
Boletim n. 28 | Publicado em 27/04/2020
Semana 5 – 20/04 a 24/04/2020
Boletim n. 27 | Publicado em 24/04/2020
Boletim n. 26 | Publicado em 23/04/2020
Boletim n. 25 | Publicado em 22/04/2020
Boletim n. 24 | Publicado em 20/04/2020
Semana 4 – 13/04 a 17/04/2020
Boletim n. 23 | Publicado em 17/04/2020
Boletim n. 22 | Publicado em 16/04/2020
Boletim n. 21 | Publicado em 15/04/2020
Boletim n. 20| Publicado em 14/04/2020
Boletim n. 19 | Publicado em 13/04/2020
Semana 3 – 6/04 a 10/04/2020
Boletim n. 18 | Publicado em 10/04/2020
Boletim n. 17 | Publicado em 9/04/2020
Boletim n. 16 | Publicado em 8/04/2020
Boletim n. 15 | Publicado em 7/04/2020
Boletim n. 14 | Publicado em 6/04/2020
Semana 2 – 30/03 a 4/04/2020
Boletim n. 13 | Publicado em 4/04/2020
Boletim n. 12 | Publicado em 3/04/2020
Boletim n. 11 | Publicado em 2/04/2020
Boletim n. 10 | Publicado em 1/04/2020
Boletim n. 9 | Publicado em 31/03/2020
Boletim n. 8 | Publicado em 30/03/2020
Semana 1 – 22/03 a 28/03/2020
Boletim n. 7 | Publicado em 28/03/2020
Boletim n. 6 | Publicado em 27/03/2020
Boletim n. 5 | Publicado em 26/03/2020
Boletim n. 4 | Publicado em 25/03/2020
Boletim n. 3 | Publicado em 24/03/2020
Boletim n. 2 | Publicado em 23/03/2020
Boletim n. 1 | Publicado em 22/03/2020

